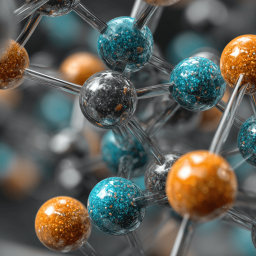A expansão marítima portuguesa transformou o mundo conhecido e estabeleceu as bases para a primeira globalização. Enquanto os feitos náuticos e comerciais dos navegadores lusos são amplamente estudados, a questão alimentar que sustentou estas longas e perigosas viagens merece igual atenção. Como conseguiram os marinheiros portugueses sobreviver durante meses em alto mar com os limitados recursos disponíveis no século XV? Que estratégias de conservação e racionamento permitiram que as naus e caravelas portuguesas alcançassem destinos tão longínquos como a Índia, o Brasil ou o Japão? A alimentação a bordo não era apenas uma questão de sobrevivência, mas também um elemento fundamental que influenciou o sucesso das expedições e a saúde das tripulações durante a Era dos Descobrimentos.
A base da alimentação marítima portuguesa
A dieta dos marinheiros portugueses durante as grandes navegações assentava principalmente em alimentos que pudessem ser conservados por longos períodos. O biscoito naval, também conhecido como “bolacha do mar”, constituía o alimento básico e era produzido a partir de farinha de trigo cozida duas vezes para eliminar a humidade. Este processo de dupla cozedura permitia a sua conservação durante meses, embora frequentemente se tornasse infestado por gorgulhos e outros insetos. Segundo os registos históricos, cada tripulante recebia aproximadamente 400 gramas de biscoito por dia, representando a principal fonte de hidratos de carbono durante as viagens.
O bacalhau seco e salgado tornou-se outro elemento central na alimentação marítima portuguesa. A técnica de conservação por salga, já conhecida desde a Antiguidade, foi aperfeiçoada pelos portugueses que estabeleceram importantes rotas comerciais com a Escandinávia para obtenção deste pescado. O processo de secagem e salga permitia que o bacalhau se mantivesse comestível durante meses, fornecendo proteínas essenciais à tripulação. Além do bacalhau, outros peixes salgados como a sardinha também faziam parte da dieta naval.
A carne, quando disponível, era geralmente conservada em salmoura ou defumada. Porém, devido às dificuldades de conservação, o consumo de carne fresca era um privilégio reservado aos oficiais e para os primeiros dias de viagem. A carne salgada de porco, mais resistente à deterioração que outras carnes, era preferida para as longas travessias. Os registos de abastecimento das naus portuguesas indicam que leguminosas secas como grão-de-bico, feijão e lentilhas complementavam a dieta, fornecendo proteínas vegetais e fibras essenciais.
Bebidas e o problema da água potável
Esta questão representava um dos maiores desafios para os navegadores portugueses. A água era armazenada em tonéis de madeira, mas rapidamente se tornava imprópria para consumo, desenvolvendo algas e adquirindo um sabor desagradável. Para contornar este problema, as embarcações portuguesas transportavam grandes quantidades de vinho, que não só servia como substituto da água contaminada, mas também como fonte de calorias e elemento de preservação da moral da tripulação.
O vinho consumido a bordo era geralmente diluído com água numa proporção de um para três, criando uma bebida conhecida como “caldeira”. Cada marinheiro recebia aproximadamente um litro desta mistura por dia. O vinagre também desempenhava um papel importante, sendo utilizado para desinfetar a água suspeita e como condimento para melhorar o sabor dos alimentos conservados. Em algumas viagens, particularmente nas rotas para o Oriente, os portugueses transportavam aguardente, que servia tanto para consumo como para fins medicinais.
Vasco da Gama, durante a sua histórica viagem à Índia em 1497-1499, enfrentou sérios problemas com o abastecimento de água. Os registos do seu diário de bordo mencionam que, em determinados momentos, a tripulação foi forçada a racionar a água a meio litro por pessoa por dia. Esta escassez levou os navegadores a desenvolverem técnicas de recolha de água da chuva e a procurarem fontes de água doce durante as paragens em terra.
Conservação e inovações culinárias
As técnicas de conservação de alimentos eram cruciais para o sucesso das viagens marítimas portuguesas. Além da salga e secagem já mencionadas, os navegadores utilizavam outros métodos como o uso de mel, açúcar e especiarias para preservar determinados alimentos. O azeite, elemento fundamental da dieta mediterrânica, era transportado em quantidades consideráveis, servindo tanto para cozinhar como para conservar alimentos em meio anaeróbico.
As cebolas e os alhos, além de condimentos, eram valorizados pelas suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, contribuindo para a conservação de outros alimentos e para a saúde da tripulação. Os ovos eram conservados em sal ou cinzas, permitindo o seu transporte por períodos mais longos. Frutas secas como passas, figos e ameixas complementavam a dieta, fornecendo açúcares naturais e alguns nutrientes essenciais.
A culinária a bordo era necessariamente simples. As refeições eram preparadas em fogões improvisados no convés, quando o tempo permitia, ou consumidas frias quando as condições marítimas eram adversas. O “rancho”, uma espécie de guisado que combinava os ingredientes disponíveis, era uma refeição comum. A monotonia alimentar era uma realidade, quebrada apenas pelas ocasionais capturas de peixes frescos ou pelas paragens em terra.
As especiarias, que constituíam um dos principais objetivos comerciais das viagens ao Oriente, também desempenhavam um papel importante na alimentação a bordo. Além de mascararem o sabor dos alimentos deteriorados, algumas especiarias como o cravo e a canela eram valorizadas pelas suas supostas propriedades medicinais. Contudo, o seu uso era geralmente restrito aos oficiais e às ocasiões especiais.
Doenças nutricionais e adaptações alimentares
O escorbuto, doença causada pela deficiência de vitamina C, representava um dos maiores flagelos das viagens marítimas. Os sintomas incluíam hemorragias nas gengivas, perda de dentes, dores articulares e, eventualmente, morte. Estima-se que mais marinheiros portugueses tenham morrido de escorbuto do que de naufrágios ou confrontos com povos hostis.
Embora a relação entre o escorbuto e a falta de alimentos frescos não fosse cientificamente compreendida na época, os navegadores portugueses observaram empiricamente que o consumo de frutas cítricas e vegetais frescos durante as paragens em terra aliviava os sintomas da doença. António de Abreu e Francisco Serrão, exploradores portugueses que navegaram pelo arquipélago indonésio no início do século XVI, relataram nos seus diários a importância de obter frutas frescas durante as escalas para manter a saúde da tripulação.
As longas viagens também levaram à adaptação e incorporação de alimentos locais na dieta dos marinheiros. Nas escalas africanas, os portugueses aprenderam a consumir frutas tropicais e mandioca. Na Índia, incorporaram especiarias e técnicas de conservação locais. No Brasil, adotaram alimentos indígenas como o milho, a mandioca e a batata-doce. Esta adaptabilidade alimentar foi crucial para a sobrevivência durante as expedições e contribuiu para a posterior globalização de produtos alimentares.
A Companhia Portuguesa das Índias Orientais, estabelecida no início do século XVII, implementou medidas para melhorar a alimentação a bordo, incluindo a obrigatoriedade de transportar limões e laranjas para prevenir o escorbuto. Estas inovações, embora tardias, demonstram uma crescente compreensão da importância da nutrição para o sucesso das viagens marítimas.
As viagens de exploração portuguesas não apenas alteraram o mapa do mundo conhecido, mas também transformaram permanentemente os hábitos alimentares globais. Os navegadores portugueses foram pioneiros na criação de uma rede global de troca de produtos alimentares, levando plantas, animais e técnicas culinárias entre continentes. Esta troca colombiana, como viria a ser conhecida posteriormente, teve o seu início nas caravelas portuguesas que transportavam não apenas especiarias e ouro, mas também novos sabores e possibilidades culinárias que revolucionariam a gastronomia mundial.